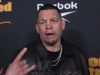CháCharles Scott Sherrington escreveu que o cérebro é um “tear encantado onde milhões de lançadeiras brilhantes tecem um padrão de dissolução”. O neurocientista britânico criou esta imagem fascinante há mais de 80 anos, numa época em que os teares mecanizados, e não os computadores, encarnavam a ideia de tecnologia. Ainda assim, o simbolismo parece relevante. Lutamos para falar sobre nossas mentes ou cérebros sem recorrer à metáfora da máquina: antes eram os relógios, depois os teares e agora os computadores. Dizemos que a nossa mente é dura; Falamos sobre nossa capacidade de processar informações.
Esta citação aparece apenas como uma nota de rodapé no novo livro de Michael Pollan, A World Appears, uma exploração brilhante e que expande a mente da consciência: como e por que somos autoconscientes. Mas tudo isto pode ser lido como uma resposta clara e eloquente ao conceito de Sherrington de que a mente é uma máquina. Na opinião de Pollan, ficámos presos em narrativas que obscureceram a riqueza e a complexidade da consciência humana e não humana. Fazendo uma ponte entre as ciências e as humanidades, Pollan baseia-se na investigação neurocientífica, na filosofia, na literatura e no estudo da sua própria mente, explorando diferentes formas de pensar sobre a existência e como ela é.
Depois de pegar o cogumelo mágico, a curiosidade de Pollan aumentou e ele começou a considerar as plantas ao seu redor como sencientes. “Parece claro que estas plantas não só tinham consciência do seu ambiente, mas também tinham as suas próprias preferências, agência e a sua própria perspectiva”, escrevem. Isto é provavelmente óbvio para um escritor sobre psilocibina, mas acontece que há muitos cientistas que concordariam com as suas conclusões. Ele se autodenomina um “neurobiólogo vegetal”. O título é intencionalmente provocativo; É claro que as plantas não têm neurónios, no entanto, como descobre Pollan, apresentam algumas das propriedades que associamos às espécies que os têm: as plantas podem aprender e formar memórias, prever e responder adequadamente às mudanças no seu ambiente, enviar e receber sinais de outras plantas, e mudar o seu comportamento dependendo das circunstâncias.
Os neurobiólogos vegetais levantam a hipótese de que o locus dessa inteligência são as raízes, que, como os neurônios, formam uma rede de células sem liderança que trocam informações por meio de sinais químicos ou elétricos. (Pollan cita a investigação de Michael Levin, que demonstrou que células simples podem comunicar através da bioeletricidade e também podem armazenar memórias.) Este capítulo derrubou muitas das minhas suposições sobre inteligência e também levantou questões inquietantes. As plantas podem tomar decisões? Eles sentem dor? Um dos pesquisadores diz: “Não posso deixar de pensar nas plantas… são pacientes com síndrome do encarceramento que não conseguem dizer que estão mentalmente vivos”.
O próprio Pollan traça um caminho cuidadoso entre o antropomorfismo (as plantas como “pacientes encarcerados”) e o seu oposto, uma negação deliberada da sua sofisticação. Ele não os considera conscientes, preferindo ser “sencientes”, o que classifica como um passo evolutivo antes da consciência. Ele argumenta que uma característica distintiva da consciência é a emoção e o sentimento, que os cientistas “localizaram” na parte superior do tronco cerebral, uma das partes mais antigas do cérebro humano (e que também existe em outras espécies, algo que levanta importantes implicações éticas).
Ao contrário da nossa capacidade de usar a linguagem, as nossas emoções provaram ser resistentes à reprodução artificial. Pollan atrai-nos para o estranho universo da consciência sintética, no qual neurocientistas e cientistas da computação procuram criar uma IA consciente, transmitindo emoções e desejos como fome, sede e necessidade de descanso. Estas páginas são certamente horríveis, mas rapidamente se torna claro que tais exercícios apenas confirmam o que é distintivo na consciência humana; Como diz Pollan, quando uma IA insere informações, não é o mesmo que sentimento. Ele evita julgar esses experimentos, embora um de seus interlocutores faça uma pergunta incisiva aos pesquisadores que os conduzem: “Por que eles simplesmente não têm um filho?”
Experimentei uma espécie de claustrofobia e isolamento ao ler sobre as várias teorias da consciência, cuja terminologia sem alma aparentemente retirada de um manual de uma escola de negócios (uma hipótese-chave é chamada de teoria do espaço de trabalho global). O mesmo acontece com Pollan, um escritor científico, sim, mas com formação em humanidades e que está mais preocupado com a explosão de categorias do que com a sua estrita delineação. Nenhuma das aproximadamente 22 teorias propostas, escreve Pollan, chegou perto de resolver “o problema” da consciência. As metáforas que temos para a mente, em grande parte extraídas do mundo das máquinas, não estão à altura da tarefa (numa das passagens mais interessantes, ele explica precisamente como a mente humana é diferente de um computador; como as emoções e os pensamentos não podem ser reduzidos apenas ao processamento de informação, e que estão profundamente ligados à nossa biologia). Pessoas que tentam replicar a consciência humana em um chip podem se parecer mais com Sísifo do que com o Dr. Frankenstein.
Pollan compara o estudo da consciência à cosmologia: assim como só podemos examinar o universo a partir de dentro dele, não temos como nos colocar fora da sua consciência. Quase podemos sentir o seu alívio à medida que ele se afasta do reducionismo dos neurocientistas para o trabalho daqueles que adotam as suas próprias posições subjetivas. William James aparece como uma luz orientadora; O importante filósofo e psicólogo observou cuidadosamente as ambigüidades da mente humana, suas variações e nuances. Tal como James, Pollan faz experiências consigo mesma, recolhendo amostras das suas experiências interiores em momentos aleatórios do dia com a ajuda de um psicólogo social, mas rapidamente descobre que o que se passa na sua mente está muitas vezes fora do alcance da linguagem. Os capítulos subsequentes, que se baseiam em tudo, desde o pensamento budista até à literatura modernista, lembram-nos o que é óbvio se pararmos para prestar atenção: que as nossas mentes estão constantemente em fluxo, mudando, mudando, fluindo.
Grande parte do livro de Pollan me lembrou o brilhante ensaio estendido de Siri Hustvedt de 2016, ilusão de certezaUma crítica explícita ao reducionismo científico. Tal como esse trabalho, o livro de Pollan tenta desembaraçar as ideias que herdamos sobre as nossas mentes, uma herança da qual nem sequer temos consciência. Freqüentemente, escreve ele, esses princípios exercem “violência” em nossa consciência. Violência é uma palavra forte e implica dano. Então, qual é o mal disso e a quem está acontecendo? Pollan vive na Bay Area da Califórnia e, embora o seu livro raramente mencione Silicon Valley, pode ser lido como um acto de resistência aos interesses financeiros e tecnológicos que investem em distanciar-nos das nossas vidas e emoções interiores.
Ele cita a socióloga Sherry Turkle, do MIT, que escreveu: “A tecnologia pode nos fazer esquecer tudo o que sabemos sobre a vida”. Concordo, embora também acrescentasse que, para esquecer algo, é preciso primeiro conhecê-lo, e pode chegar um momento em que nos tornamos tão desconectados da riqueza das nossas próprias mentes que começamos a pensar na consciência como um mero processamento de informação, confundindo a metáfora de uma máquina com a realidade. Este é talvez o demónio que assombra este livro: a nossa preocupação deveria ser menos sobre que tipo de IA poderemos produzir – se uma máquina poderá um dia experimentar amor ou ódio – e mais sobre que tipo de humanos as nossas interacções com a IA e a tecnologia criariam; Aceitaremos a concepção falha da nossa mente ou nos familiarizaremos novamente com as suas maravilhas?